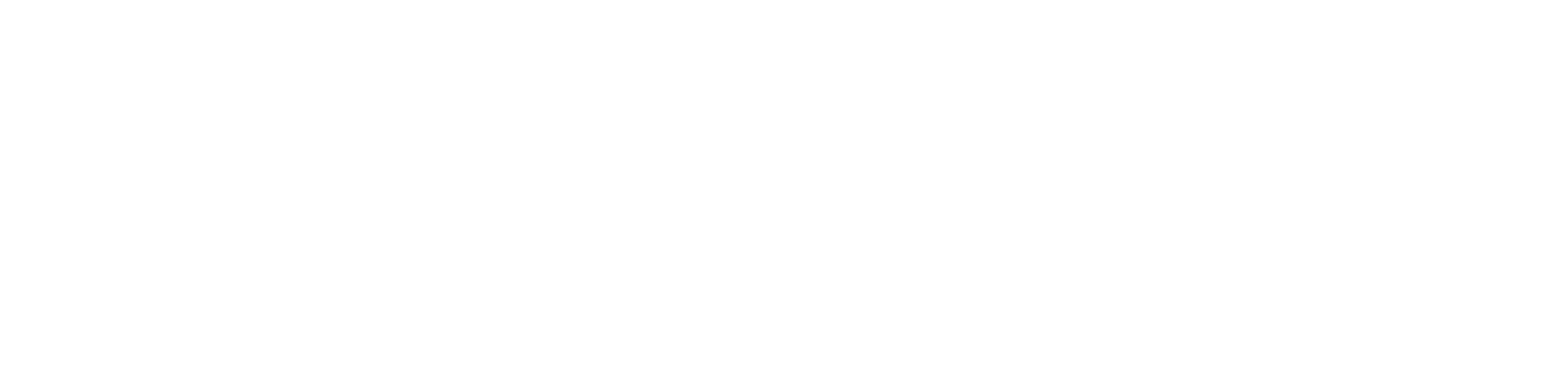Mons. Joel Portella - MODOS E INSTRUMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO PASTORAL DOS SACERDOTES S.E
S.E. Mons. Joel Portella, Vescovo di Petropolis (Brasile)
Saudando S. Emcia. Cardeal Lazarus You Heung-sik e toda a equipe do Dicastério para o Clero, saúdo os demais cardeais, bispos, sacerdotes e cada irmão e irmã aqui presentes. Saúdo os padres Fernando e Bognon, que compõem comigo esta mesa.
Compartilho um pouco da experiência vivida no Brasil. Aqui, entre os participantes brasileiros, encontra-se o bispo presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados da Conferência Episcopal Brasileira e o sacerdote presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros. É a partir dessa experiência que aqui falo.
O enfoque que me foi indicado para esta reflexão, modos e instrumentos para o acompanhamento pastoral dos sacerdotes, de algum modo já apareceu nas conferências anteriores e, mais ainda, nos relatos a respeito de boas práticas. Tentarei recordar alguns relatos a título de exemplo. Conversaremos, portanto, sobre o agir decorrente de tudo que ouvimos e partilhamos nesses dias.
Porém, antes de destacar algumas intuições para o acompanhamento dos sacerdotes, faço a opção por previamente recordar dois aspectos da mudança de época que afetam muito diretamente a vida dos sacerdotes. Eu insisto nesses dois aspectos por considerá-los importantes para as propostas, unindo-me, é claro, a tudo que já saboreamos ao longo desses dias.
Não há dúvida de que são inúmeras as causas do atual contexto enfrentado pelos sacerdotes. O primeiro desses aspectos encontra-se no que chamo de descompasso entre as expectativas que os sacerdotes têm de si mesmos e a realidade que encontram.
Não é, portanto, uma questão inicialmente teológica. É uma questão sociocultural e diz respeito ao papel que a cultura atual globalizada vem atribuindo ao sacerdote. Estamos todos inseridos nessa realidade, ainda que possamos considerar diferentes graus de afetação.
Pelo menos nas sociedades ocidentais, o padre experimentou, ao longo de séculos, uma função social de destaque e respeito, sendo socialmente aceito como membro de uma instituição, no caso, a Igreja, que lhe dá suporte no que ele é chamado a ser e fazer.
Ocorre que, desde as últimas décadas do século passado, temos experimentado um deslocamento nessa identidade sociocultural, com um outro tipo de equilíbrio entre o indivíduo e a instituição. Esse não é um fenômeno específico dos sacerdotes. Atinge também outras situações. No caso, porém, dos sacerdotes, creio que estamos diante de uma situação determinante. Enquanto, em outros momentos da história do sacerdócio, a instituição Igreja era a garantidora sociocultural das identidades e ações individuais, atualmente esse papel tem sido cada vez mais atribuído ao indivíduo. Esse é o deslocamento: da instituição para o indivíduo.
Essa virada diametral acontece porque temos experimentado formas cada vez mais agudas de individualização da vida como um todo, com a exacerbação daquela concepção de ser humano própria da modernidade. Se, por exemplo, em outros momentos da história sociocultural do sacerdócio, as dificuldades e falhas de um padre eram absorvidas pela instituição, atualmente é a pessoa do padre que carrega sobre seus ombros boa parcela da responsabilidade por garantir a plausibilidade sociocultural da instituição.
Se, em outros momentos da história se dizia “o padre errou, mas a Igreja é santa”, nessa mudança de época, com forte dose de individualização, a frase passa a ser: “um padre errou; toda a Igreja é ruim”. A perda do status do padre nesta sociedade secularizada possui seu valor, como nos lembrou o Santo Padre no vídeo que acabamos de assistir, na medida em que liberta o padre para viver sua vocação e sua missão de modo mais fiel e intenso. Não podemos, contudo, negar que a carga sobre os ombros dos sacerdotes ficou mais pesada. Basta que pensemos na importância do testemunho.
Essa inversão de peso sociocultural entre o indivíduo e a instituição é fonte de crise para os padres de qualquer faixa etária, com qualquer tempo de sacerdócio. Os mais velhos sofrem por experimentarem um mundo para o qual não se prepararam. Os mais jovens, frutos muitas vezes, de situações familiares e sociais esfaceladas, buscam – conscientemente ou não – algum tipo de suporte existencial exterior a si, como a dizer: “Alguém me ajude a carregar esse peso!”
Indico essa realidade por considerá-la diretamente ligada ao acompanhamento pastoral dos sacerdotes, exigindo o que estou preferindo chamar de acompanhamento existencial, com todas as dimensões aqui implicadas e tão bem abordadas ao longo desse Congresso. Vejam que eu não utilizo aqui a expressão integral, dada como pressuposta na consciência formativa da Igreja. Optei por existencial no sentido de que precisamos descobrir caminhos para que as diversas dimensões da formação sacerdotal, em especial a formação permanente, não sejam apenas justapostas, ao estilo de gavetas em um grande armário, mas que sejam articuladas entre si, em uma postura mais próxima do pensamento digital, em que os fluxos se interpenetram e complementam.
Creio ser esse, portanto, o primeiro aspecto a considerar. Ele não é tão concreto na linha do agir quanto desejamos, mas estou seguro de que, sem esse passo, os outros passos permanecerão em um contexto que já não existe mais.
A essa primeira recordação em nível de diagnóstico, acrescento ainda a forte fragmentação da vida em geral, tornando-nos, mesmo que não o percebamos, carentes de sínteses. Se, portanto, o acompanhamento sacerdotal não ajudar, no atual momento da história, a fazermos sínteses existenciais, discernindo caminhos para nossa identidade e nossa missão, o sacerdote corre o risco de sucumbir ao peso que lhe é colocado nas costas, resolvendo com variadas formas de compensação, por exemplo, de perfil estético, chegando aos atentados contra a própria vida. No caso específico dos suicídios, a Conferência Episcopal Brasileira tem procurado compreender este fato tão sofrido por meio da escuta dos bispos, dos familiares, dos sacerdotes próximos, contando ainda com a ajuda de profissionais de várias áreas.
A partir desse aspecto mais geral - peso sobre as costas e necessidade de síntese - algumas indicações podem ainda ser feitas.
A primeira delas diz respeito à superação da subjetividade fechada que predomina em nosso tempo. E isso só ocorre através da convivência, da partilha de vida. Os sacerdotes são celibatários, porém não solitários. Se, em outros tempos, foi possível a heroicos sacerdotes viverem em situações de isolamento geográfico, hoje isso se torna mais difícil.
Ao homem que socioculturalmente aprende a querer ser feliz sozinho, chegando até mesmo às fronteiras da autorreferencialidade, pede-se que seja um sacerdote relacional, isto é, capaz de traduzir a fraternidade, no caso, a fraternidade sacerdotal, em convivialidade. Esse é o princípio, um caminho indispensável, já mencionado aqui várias vezes. A convivialidade possui em nossos dias uma força interpeladora: Fratelli Tutti.
Surge, então, o desafio das comunidades sacerdotais, onde o convívio seja uma marca distintiva da espiritualidade. Se não for possível formar de imediato comunidades, com a vida no mesmo local, ainda que com serviços pastorais distintos, sejam valorizados momentos de encontro para a oração, a partilha de vida, o lazer e tudo mais que o humano, iluminado pela fé, nos indique. Os grupos indicaram esse aspecto e essa é a primeira intuição.
Uma segunda intuição diz respeito aos períodos sabáticos, que, a meu ver, precisam ocorrer em intervalos mais curtos e com perfil integral, existencial. Por intervalos mais curtos, quero indicar dois aspectos: Curtos na distância entre si e curtos no tempo de duração. É bem provável que um período, por exemplo, de dez em dez anos não seja mais suficiente para que um sacerdote se distancie um pouco de suas atividades, mais ainda de seu ativismo, para rever a si mesmo, seu projeto de vida, sua vocação e sua missão. Além disso, não precisam ser muito longos, anuais ou semestrais. Podem ser mais curtos, desde que atendam ao que a Dra. Chiara D’Urbano, em sua conferência, chamou de acompanhamento construtivo.
Isso quer dizer que tais períodos não sejam apenas de estudo nem tratem somente de temas teóricos, mas que sejam de escuta, partilha, direção espiritual, acompanhamento médico, auxílio profissional na área psicológica, sempre em vista do revigoramento existencial. Recordo aqui o relato da boa prática argentina chamada Jeremias. Existem outras em nossos países. Importa que sejam divulgadas e que períodos sabáticos sejam considerados no processo de formação permanente, evitando que os sacerdotes não tenham tempo nem condições de síntese porque precisam atender às necessidades pastorais. Um pastor ferido tem grande dificuldade de cuidar do rebanho.
Retomo aqui a fala do Cardeal Tagle a respeito dos encontros interculturais. Assim nos conectamos diretamente com a dimensão missionária, em que os sacerdotes podem se refazer no contato com outras realidades socioculturais sem terem que deixar de todo o convívio pastoral, sempre salutar. Penso que tais períodos sabáticos podem ser vivenciados até – permitam-me sonhar alto – em nível internacional, fornecido, por exemplo, pelo Dicastério para o Clero.
A quarta indicação que eu gostaria de trazer está muito ligada à dimensão missionária. A partir da intuição por períodos sabáticos, pergunto porque não oferecer aos sacerdotes experiências em outras dioceses, com realidades culturais diferentes, em contato com outros modos de viver a fé. ¿Por que não permitir que, por exemplo, igrejas particulares estabeleçam convênios para a troca de sacerdotes de tempos em tempos? ¿Seria algo tão irreal assim, em um mundo de tanta mobilidade? ¿É irreal pensar que os padres possam viver experiências em contextos diferentes, experiencias acompanhadas, por certo, que ajudem a relativizar crises oriundas de descompassos socioculturais? Cristo enviava e recolhida, como no pulsar do coração. Cardeal Ravasi mencionou alguns órgãos e eu ouso inserir aqui o coração.
A quinta intuição se mantém no âmbito do acompanhamento individual. Isso se aplica, por certo, à figura do diretor espiritual, mas também a um contato mais próximo entre o bispo e seu presbitério, com a possibilidade da criação de uma função diocesana de acompanhamento do clero, não apenas para solucionar problemas, mas para, na escuta, no contato pessoal, identificar fragilidades e prever percalços, se não em sua totalidade, pelo menos reduzindo-os a níveis menores. Não se trata de burocratizar, criando mais uma função com títulos, nomeações, provisões e regulamentos. Tais aspectos podem até ajudar. Creio, porém, na força do relacionamento amigo, fraterno, na arte de ser presença que contempla o mistério de Deus na vida dos irmãos presbíteros, deixando que a graça de Deus se manifeste.
Nessa mesma linha do acompanhamento, sexta intuição, destaca-se o papel do que chamamos de pastoral presbiteral, em que alguns presbíteros assumem a específica missão de acompanhar e cuidar dos demais. Sabemos que o exercício dessa missão não possui caráter investigativo ou disciplinar, porém fraterno e preventivo, atingindo os diversos âmbitos em que um sacerdote precisa agir.
Indico ainda uma última intuição, a sétima. Trata-se de uma experiência significativa para os padres do Brasil. Refiro-me aos Encontros Nacionais, uma experiência de quatro décadas e que, ao longo desse tempo, amadureceu bastante. O Brasil é um país grande, com realidades muito diferenciadas. O fato desse encontro acontecer em média a cada dois anos, com preparação pelos sacerdotes, com todo o processo sendo conduzido pelos próprios sacerdotes, com a presença, é claro, dos bispos diocesanos e dos bispos que fazem parte da Comissão para os Ministérios Ordenados, concretiza aquela autonomia positiva que a Dra. Chiara D’Urbano mencionou em sua fala. É óbvio que cada país tem o seu jeito de ser. A referência aqui aos Encontros Nacionais liga-se ao fato de os sacerdotes serem eles mesmos os protagonistas do processo.
Por fim, mesmo que estejamos falando de sacerdotes já ordenados, é inevitável que nos voltemos também para a formação inicial, no sentido de que o cuidado pessoal, consigo e com os outros sacerdotes, seja uma das características da espiritualidade presbiteral e não apenas um acessório ou, pior, uma obrigação da qual precisamos nos desvencilhar, ao estilo do seminarista submarino recordado pelo Pe. Zollner.
Na medida em que conseguirmos aproximar formação e santificação, como condições para a missão, creio que daremos bons passos. É necessário que os seminaristas, já no tempo do Propedêutico, sejam motivados a perceber o valor desse acompanhamento, superando uma mentalidade que, marcada pelo individualismo de nosso tempo, considera essas e outras sugestões do mesmo perfil como intromissões na individualidade.
Enfim, irmãs e irmãos, como viram, não se trata, como costumamos dizer, de inventar a roda. Não existem receitas. Existe, sim, o tesouro da Igreja de onde o escriba sabe tirar coisas novas e velhas. No contexto que nos reuniu aqui, trata-se de buscar, na rica experiência da Igreja, alguns aspectos que passam a fazer parte das primeiras preocupações para o agir, recebendo alguns deles uma ou outra adequação.
Muito obrigado.